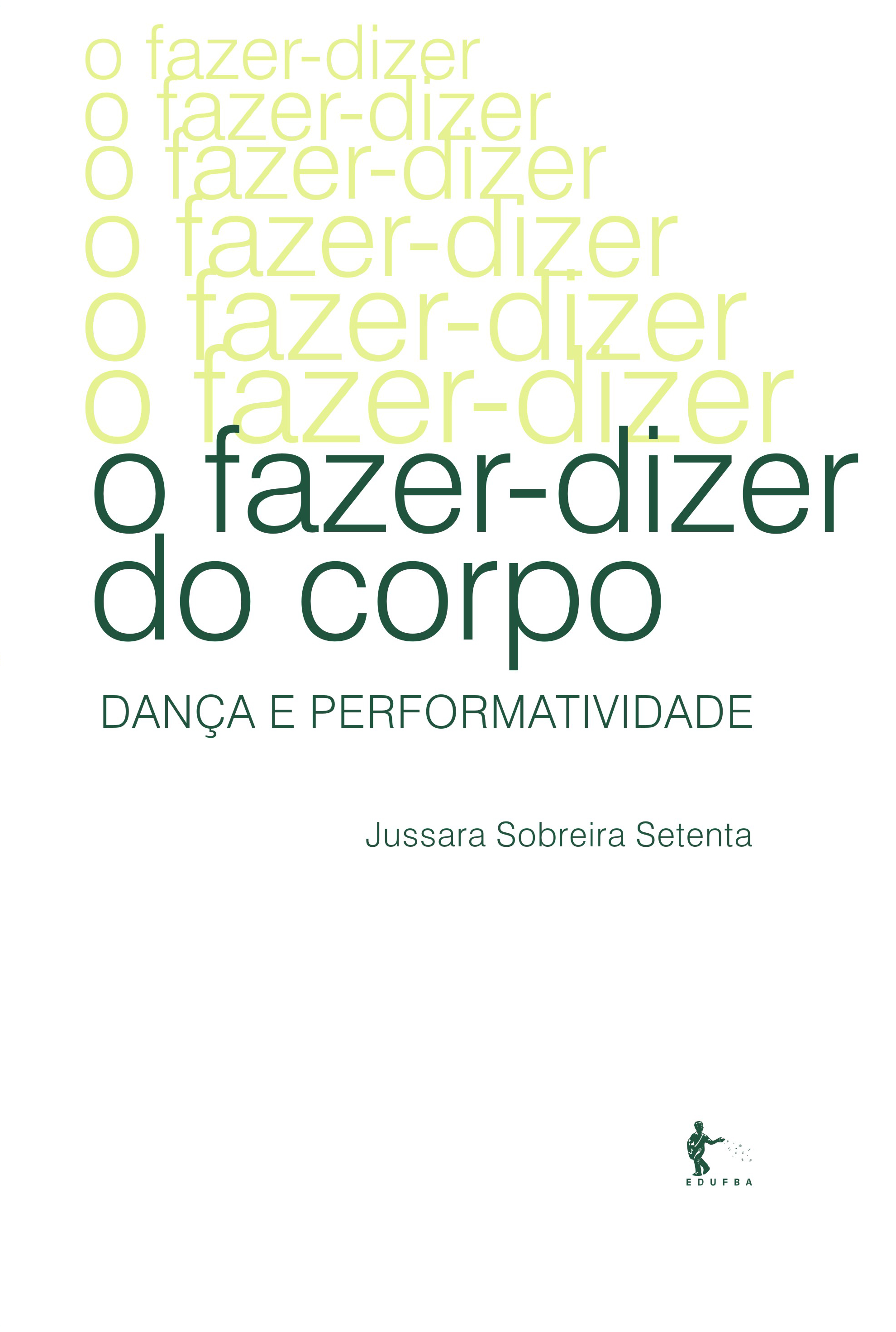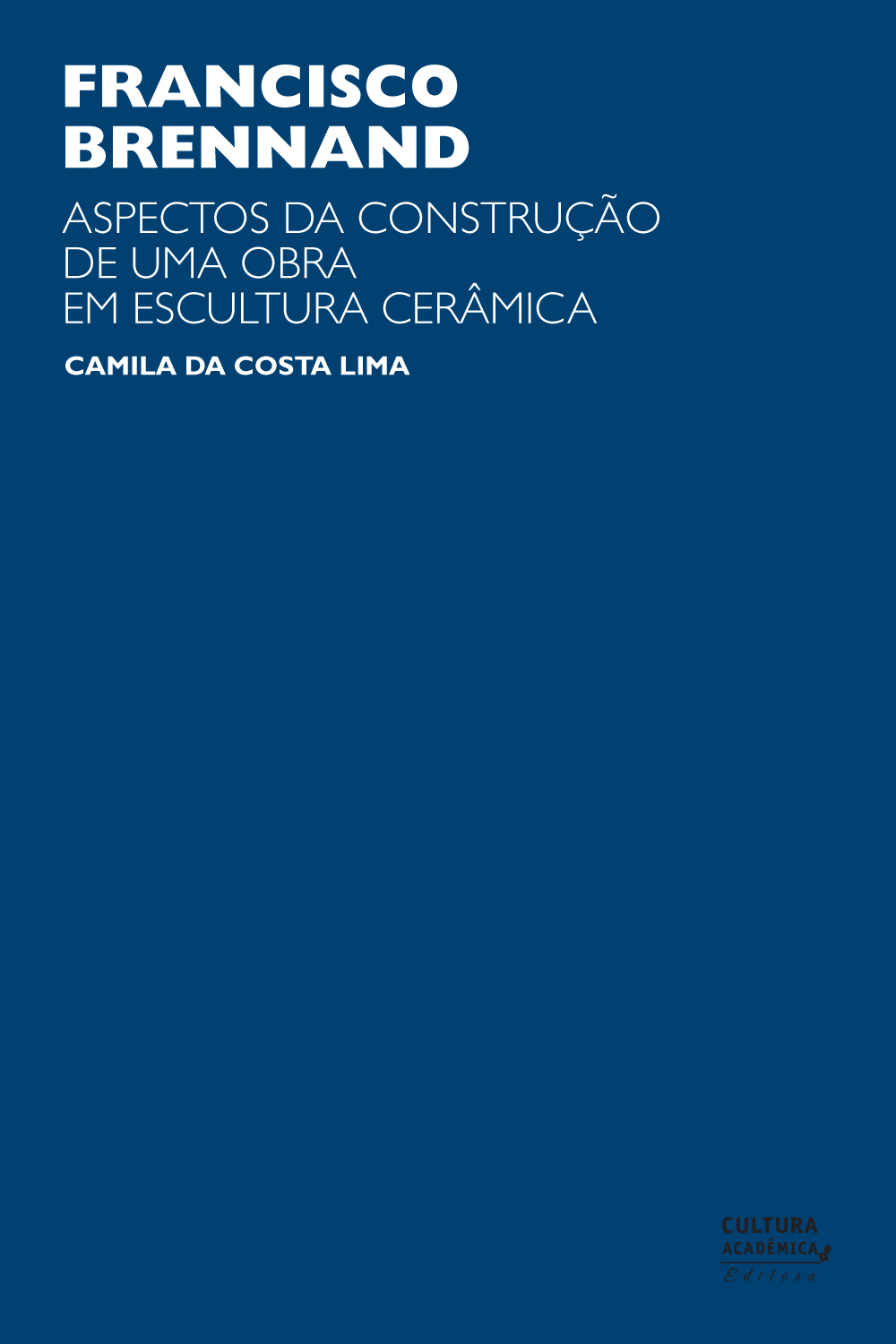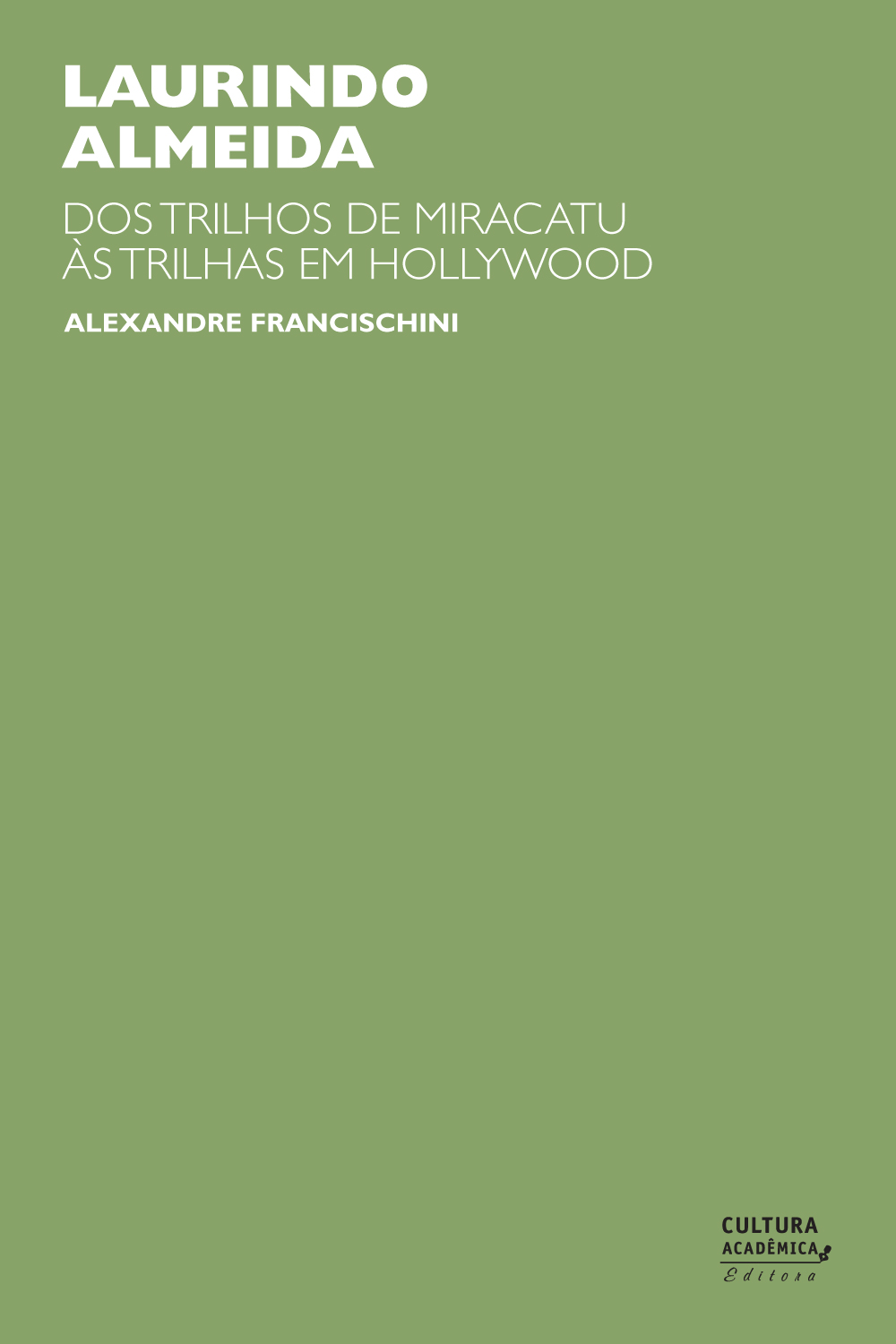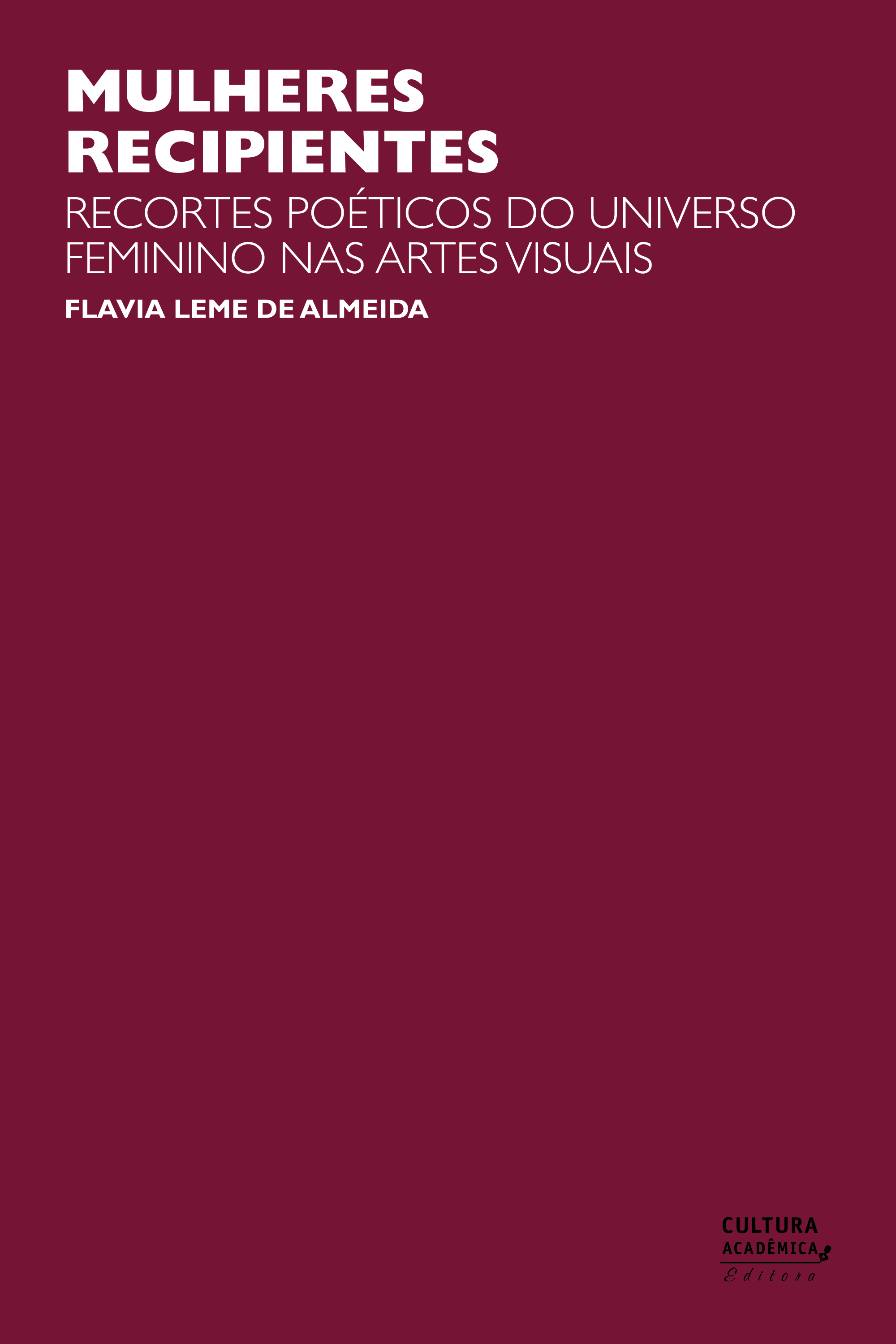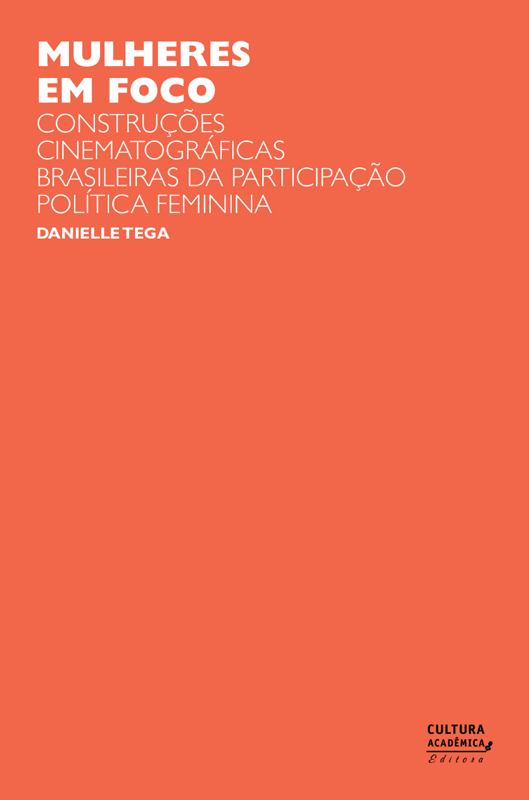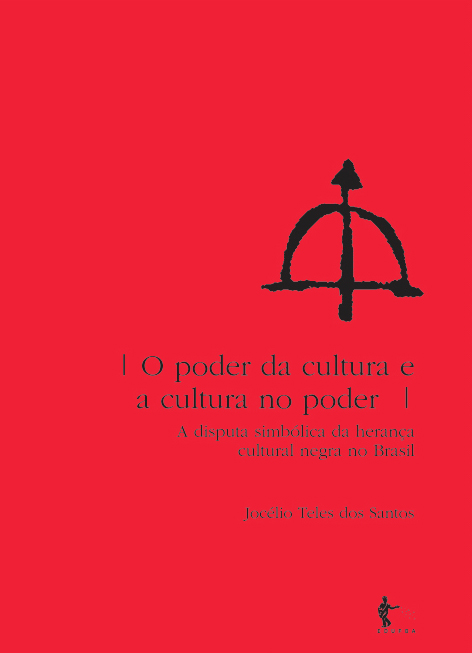Magali Reis I; Luiz Armando Bagolin II
I – Professora, doutora e pesquisadora na área de educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais magali_rei@pucminas.br
II – Professor, doutor e pesquisador na área de artes do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo lbagolin@usp.br
Arte além do bem e do mal
JOHN DEWEY (trad. Vera Ribeiro; introd.: Abraham Kaplan) SÃO PAULO: MARTINS, 2010, 646 p.
 A arte, desinteressada, alojada em um pedestal como obra de arte, distante da vida comum e cotidiana, é desinteressante como experiência estética efetiva, sendo louvável tão somente por lembrar que em sua origem ela participava dos modos de ver e de sentir dos indivíduos que a perfizeram. Para John Dewey, a compreensão da experiência estética verdadeira passa pela consideração de seu “estado bruto” quanto às formas de ver e ouvir como geradoras de atenção e interesse, e que podem ocorrer tanto a uma dona de casa regando as plantas do jardim quanto a alguém que observa as chamas crepitantes em uma lareira. Resultado de dez conferências proferidas entre o inverno e a primavera de 1931 na Universidade de Harvard, a obra Arte como experiência, publicada pela primeira vez em 1934, sob o título geral The later works of John Dewey, somente agora surge traduzida para a língua portuguesa. Não muito distante da visão pragmatista que permeia a sua obra filosófica e sua teoria pedagógica, a opinião construída sobre a experiência artística focaliza a necessidade de se considerar o prazer e a satisfação envolvidos nesta experiência, cujo impulso é dado pelo próprio contexto no qual se insere o indivíduo.
A arte, desinteressada, alojada em um pedestal como obra de arte, distante da vida comum e cotidiana, é desinteressante como experiência estética efetiva, sendo louvável tão somente por lembrar que em sua origem ela participava dos modos de ver e de sentir dos indivíduos que a perfizeram. Para John Dewey, a compreensão da experiência estética verdadeira passa pela consideração de seu “estado bruto” quanto às formas de ver e ouvir como geradoras de atenção e interesse, e que podem ocorrer tanto a uma dona de casa regando as plantas do jardim quanto a alguém que observa as chamas crepitantes em uma lareira. Resultado de dez conferências proferidas entre o inverno e a primavera de 1931 na Universidade de Harvard, a obra Arte como experiência, publicada pela primeira vez em 1934, sob o título geral The later works of John Dewey, somente agora surge traduzida para a língua portuguesa. Não muito distante da visão pragmatista que permeia a sua obra filosófica e sua teoria pedagógica, a opinião construída sobre a experiência artística focaliza a necessidade de se considerar o prazer e a satisfação envolvidos nesta experiência, cujo impulso é dado pelo próprio contexto no qual se insere o indivíduo.
Fundamentalmente neo-hegeliana, a visão de Dewey sobre a arte reclama pelo total engajamento do artífice em relação ao produto que fabrica, assim como pela consciência sobre o seu processo. Partícipe da vida, a arte se dá sob novas formas e modos de percepção na atualidade, pois distante dos pedestais dos museus e instituições onde se expõe oficialmente, aparece em lugares incomuns, mas que propiciam a busca do prazer e o exercício da sensibilidade. Ou, como propõe o autor que as artes que têm hoje mais vitalidade para a pessoa média são coisas que não são consideradas artes como, por exemplo, filmes, jazz, quadrinhos e, com demasiada frequência, as reportagens de jornais sobre casos amorosos, assassinatos e façanhas de bandido.
Para que essa opinião, talvez um lugar comum para a nossa época – prenhe de performances e instalações – não escandalizasse o leitor da sua obra, ou a audiência primeira destas conferências, Dewey chama a atenção para a possibilidade de se considerar que, nas sociedades antigas, as “artes do drama, da música, da pintura e da arquitetura” não eram manifestações que habitavam teatros, galerias e museus. Antes, participavam da vida coletiva, ligando-se organicamente umas às outras – a pintura e a escultura com a arquitetura, por exemplo, a música e o canto com os ritos e cerimônias da vida de determinado grupo.
O argumento, em sua base, é hegeliano, pois a obra de arte enseja sempre uma participação entre aquilo que é obra – portanto, a parte material, sensível, que se “expõe para” – e a arte – ou seja, a ideia trazida pelo “Espírito”, que “se expõe em”. Em outros termos, a obra é “de arte” quando dela, obra, construção humana numa determinada sociedade, participa o “Espírito”, ou o “Em-Si e Para-Si”, não havendo mais possibilidade de que tal associação se produza em nossa época, para a qual a arte tornou-se um “objeto de consideração científica”. O que se vê nos museus como “obra de arte” é apenas um corpo oco, desabitado do “Espírito” que, outrora, dela, como obra, participara. A arte verdadeira, nos tempos dessa participação, segundo Hegel, não era, desse modo, entendida como arte, pois as pessoas ajoelhavam-se diante dela no interior dos templos, mirando o sagrado de que se revestia o “Inteligível”.
Servindo-se desse argumento, Dewey tenta demonstrar como é necessário distinguir entre esses objetos, elevados ao status de obras de arte, mas separados da experiência temporal e social de sujeitos contemporâneos, e as formas novas de sensibilidade, na verdade, específicas e adequadas, pois não são universais, mas se justificam em cada época, permitindo a esses sujeitos expressarem a própria condição de vida. Para o autor, entretanto, a dessacralização da arte, entendida como experiência apartada da vida humana, foi agravada pelo capitalismo, cuja “influência” se fez sentir na instituição da arte: “O crescimento do capitalismo foi uma influência poderosa no desenvolvimento do museu como o lar adequado para as obras de arte, assim como na promoção da ideia de que elas são separadas da vida comum”. Associado ao materialismo crescente sobre as sociedades modernas, o capitalismo “enfraqueceu ou destruiu o vínculo” das obras de arte com os seus respectivos contextos de origem, o genius loci dos quais eram essas obras a “expressão natural”. A ruptura desse vínculo, segundo o autor, determinou a abertura de um “abismo entre a experiência comum e a experiência estética”, produzindo um esteticismo desenfreado que muito tem a ver com os modos de operar do comércio e do mercado, mas pouco com a experiência da arte. Teorias estéticas já existentes, as muitas, só ajudaram a aprofundar esse abismo. Portanto, para o autor, deve-se buscar a compreensão a partir de um “desvio”, dirigindo-se diretamente à experiência, solo comum, de onde as obras advêm. Indaga-se, de início, pela natureza da experiência como concernida à vida e às condições para a sua existência. Em primeiro lugar, na lista dessas condições, há um ambiente, um lugar no qual a vida surge e com o qual ela interagirá o tempo todo. Para Dewey, os “lugares-comuns biológicos são as raízes da estética na experiência”. Esta é resultante de um processo de adaptação pelo qual a vida busca a expansão (não a contração ou a acomodação), enfrentando todas as hostilidades e percalços ao seu desenvolvimento.
Por isso, os seres acolherão a ordem, em meio a um mundo que opera segundo o caos e a desordem, incorporando-a em si mesmos e compartilhando-a em suas ocorrências exteriores: a ordem sendo produzida em toda parte, também se produz fora dos seres. No homem, “a perda da integração ao meio” ou a impossibilidade de partilhar tal ordem geram sentimentos como a emoção, caso se ofereça a ruptura; ou a reflexão, caso seja gerada a discórdia. “Tensão e resistência” ativam, como potencialidade, a experiência para o artista, e como problema, a experiência para o cientista, embora esse processo possa ser invertido para ambos, por se originar a experiência, segundo o autor, do mesmo enraizamento: “o pensador tem seu momento estético quando suas ideias deixam de ser meras ideias e se transformam nos significados coletivos dos objetos. O artista tem seus problemas e pensa enquanto trabalha”. No entanto, o pensamento no artista ocorre em tal consonância com os meios que ele utiliza, que parece haver, entre pensamento e objeto, uma fusão em um só termo. Sem confusão, a experiência estética verdadeira enseja a harmonia, obtida desde que haja “de algum modo, um entendimento com o meio”. A arte que interessa realmente surge a partir do poder de realização de novas adaptações, perfazendo-se como experiência estética – portanto, significativa – em um tempo que é tão somente o de seu presente, consoante ao desfrute ou ao gozo que ela proporciona -, por conseguinte, não duradoura, mas não apartada do mundo. A experiência é, assim, sempre tratada como positiva, na medida em que, para o autor, só tende a incrementar a vida. A positividade proposta para a experiência bruta, primeira, implica que se considerem todos os sentidos ativos no mundo e com “o mundo dos objetos e acontecimentos”, no qual o “eu” busca o ritmo e a ordem livrando-se do caos: “a experiência é a arte em estado germinal”.
Mas é preciso que se note que os sentidos sofreram o mesmo tipo de separação que se deu com as formas de vida em suas representações institucionais, econômicas e jurídicas. Valorizados aqueles que se subordinam ao intelecto, desprezados aqueles que se distanciam da razão, em geral os sentidos são usados mecanicamente, sem que nos apercebamos disto. O uso dos sentidos recupera o seu sentido originário quando abarca e interpenetra todas as coisas do mundo, levando a “criatura” a experimentá-las, apontando os seus significados.
Discordando da posição kantiana, para quem a natureza produz efeitos e não obras, Dewey propõe o ninho do pássaro e o dique do castor como exemplos de “processos do viver” dos quais emerge a arte, sem que haja a necessidade de distingui-los no homem. Afirmada neste, como qualidade distintiva, a consciência é o agente promotor da transformação de materiais e energias da natureza em arte, sendo conduzida como experiência estética, pois envolve a participação ativa de todos os sentidos. A transitividade entre a sensação dos sentidos e o ambiente ou meio para a deflagração da experiência estética permite que o autor retome a noção romântica do artista absorto, imerso na natureza e a ela intrinsecamente ligado: W. H. Hudson, Emerson. O sublime, para Dewey, é o denominador comum entre a experiência estética e a religiosa, uma vez que ainda defende o sentimento extasiado como sumo efeito dos processos de interação da vida biológica (e não da espiritual) com o meio, nos quais a experiência artística é fulcro para os sentidos e a consciência, que se traduziram em ato sobre determinada matéria.
O pensamento tem papel fundamental nessa transitividade, pois proposto como movimento contínuo, seguido das teorias de seu amigo William James, permite ser representado pari passu às representações do sublime, em imagens anímico-climáticas, nas estéticas do século XIX. Ininterrupto, produzido em ondas, o pensamento só não é condutivo da experiência e conclusivo quando premido pela precipitação da vida apressada que o empobrece, enfraquecendo aquela ou sobre ela produzindo uma “interferência”. Dewey parece querer reivindicar a superação da dicotomia entre produção e recepção da obra de arte presente na estética kantiana, a produção a encargo do artista, gênio dotado de poderes de imaginação; a recepção a encargo do público, depois de mediada pelo juízo. Para o autor, quando a produção da obra de arte é desfrutada na experiência ou durante o processo de sua execução, o artista incorpora em si a mesma atitude do espectador. Este deve ser estimulado a refazer as “relações vivenciadas pelo produtor original” para perceber “o processo de organização consciente vivenciado pelo criador da obra”. Para Dewey, o espectador deve utilizar a obra de arte, que atesta uma experiência alheia, para criar a própria experiência, o que a potencializa como um ato de recriação significativa.
De maneira semelhante, é preciso superar a dicotomia entre matéria e forma presente em teorias estéticas ora “idealistas”, ora “sensualistas” que confirmariam a “falácia” contra a unidade dos dois termos na experiência. A superação dessa dicotomia faz com que se passe para a próxima, que rigorosamente é o cerne da discussão proposta pela estética de Dewey: a separação entre sujeito e objeto, tal como foram discriminados pela filosofia, não faz sentido para o verdadeiro conceito de experiência, uma vez que, para esta, corresponderiam o organismo e o meio ambiente, termos que, integrados na verdadeira experiência, como já referido, interagem de modo equilibrado. Os excessos contingentes, tanto de um lado como de outro, explicariam os defeitos numa obra de arte.
De todas as teorias filosóficas da arte, talvez a que mais se aproxime da estética de Dewey, segundo o que ele mesmo afirma neste livro, seja a da “teoria da arte como brincadeira”. Pelo menos aí haveria o reconhecimento da “necessidade da ação, do fazer algo”. Não há arte, para Dewey, sem a noção fundamental de que a ação permite a passagem do não ser para o ser, noção que é basilar também para o conceito de experiência. O “gatinho” brinca com o novelo de lã e esta brincadeira não difere muito da de uma criança pequena. Mas ao contrário do que ocorre com um animal, a manifestação da brincadeira no homem adquire em algum momento a necessidade de ordenação da experiência, transformando-se de brincadeira em jogo e, deste, em trabalho, embora não identificado com o cansaço e a labuta penosa. A experiência que deflagra a atividade artística, para Dewey, não pode ser coercitiva, mas livre e prazerosa, implicando não o trabalho em sua forma usual, pejorativo, mas sob a forma de uma experiência estética. Nisso, não difere muito o autor de Kant, do qual muitas vezes parece querer afastar-se, pois a “terceira crítica” kantiana expõe explicitamente a oposição entre “bela-arte”, ou “arte livre”, e “artesanato”, ou “arte remunerada”. A primeira, como jogo ou atividade que em si mesmo é prazerosa; a segunda, como gozável apenas em razão de um interesse atendido ou da expectativa de um valor aferido e satisfeito depois da atividade cumprida, mas não uma atividade deleitável por ela mesma.
A aproximação entre arte e brincadeira refaz, portanto, o vínculo entre arte ou experiência estética e “desinteresse”, conceito-chave das estéticas oitocentistas, pois a experiência da consecução da obra de arte deve necessariamente ter seu foco nela mesma como critério de exposição de sua unidade interna, o que seria difícil caso o propósito da interação entre sujeito e objeto, forma e matéria, estivesse colocado fora da experiência. Um interesse alheio a esta, como seu deflagrador, poderia ser lido logicamente como outra experiência, o que implicaria admitir que a experiência da arte não é livre, pois subordinada a interesses exteriores a ela, o “organismo”, portanto, não interagindo livremente e em reciprocidade com o “ambiente”.
Também, o papel da crítica como instrumento de mediação, como auxiliar para a “reeducação da percepção das obras de arte”, é resgatado por Dewey com base em Kant, embora o autor descarte a função moralizadora do juízo, suas “aprovações ou desaprovações”, “classificações e condenações”. “A função moral da própria arte é eliminar o preconceito”, propõe Dewey, dirigindo também ao crítico esta função, porque acredita que o juízo verdadeiro acerca da obra artística nasce da experiência de sua recriação, como reordenação da experiência que a gerou no organismo de quem dela provar. Para que a experiência da arte seja vivenciada pelo indivíduo livre, é necessário que a considere alienada em relação à “prática da moral”, que produz as ideias de “louvor e de censura”, de “recompensa e de castigo”. Indiferente a tais ideias, a arte, ainda pensada de forma idealizada por Dewey, é colocada como uma experiência acima do bem e do mal.
++++++++++++++++++++++++++++++
A obra A Arte como Experiência de John Dewey está disponível para empréstimo n Biblioteca da Escola de Belas Artes e na biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

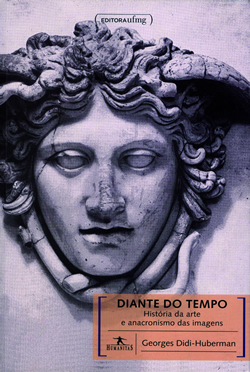




 O mercado de roubo de arte chega a movimentar 6 bilhões de dólares por ano, o que fez necessária a criação do departamento de crimes contra arte do FBI, proposta de Robert Wittman
O mercado de roubo de arte chega a movimentar 6 bilhões de dólares por ano, o que fez necessária a criação do departamento de crimes contra arte do FBI, proposta de Robert Wittman Retrato de Suzanne Bloch
Retrato de Suzanne Bloch O Grito
O Grito Policiais observam as obras roubadas que voltaram ao Masp em janeiro de 2008.
Policiais observam as obras roubadas que voltaram ao Masp em janeiro de 2008.